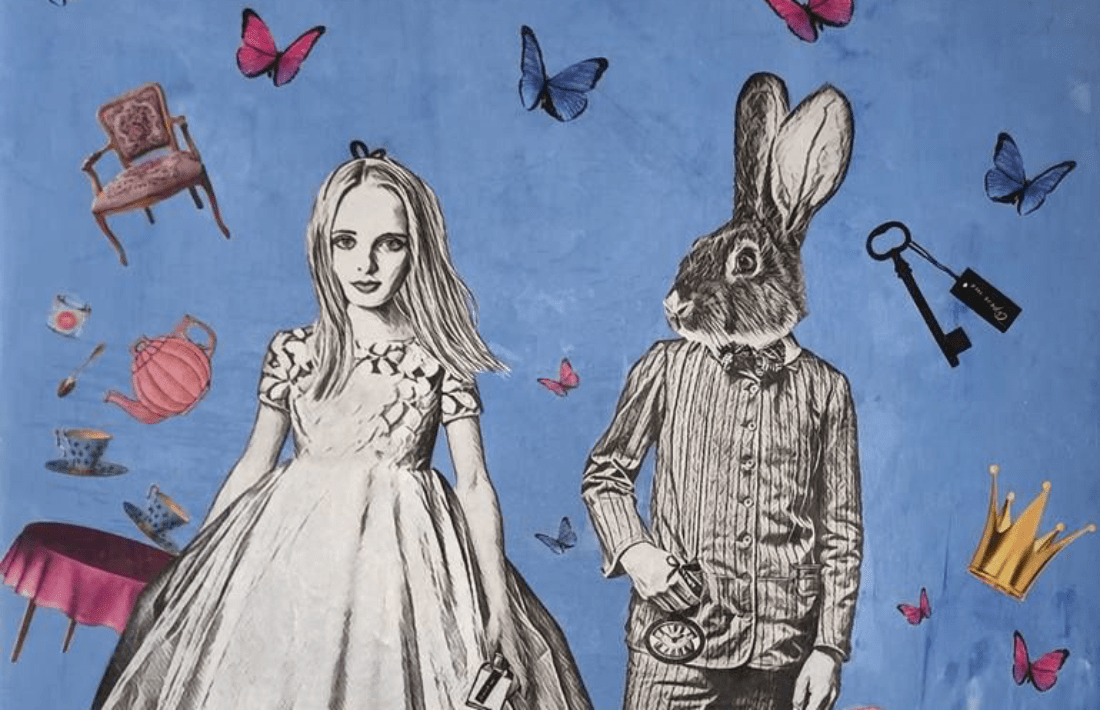Muitos acreditam que, cessada a pandemia, o mundo será melhor e a humanidade mais solidária. Não haveremos de retornar ao velho “normal”. Confesso já não guardar o pessimismo para dias melhores. Não identifico na Covid-19 esse poder revolucionário de abalar o neoliberalismo, minar os paradigmas do livre mercado e reforçar o papel do Estado na proteção da população mais vulnerável.
As lutas sociais ainda têm muito caminho a percorrer rumo ao futuro de menos desigualdade e, quem dera, uma renda básica assegurada a cada cidadão do planeta. Quando supomos que as coisas estão melhorando, acontece uma tragédia como o etnocídio em Minneapolis, na sexta, 29/05, quando o negro George Floyd foi sufocado até a morte pelo policial branco Derek Chauvin. Isso no país de Martin Luther King, onde se presumiria que esse tipo de discriminação violenta já estaria superada.
Minha hipótese de que o mundo retornará pior à “normalidade” após a pandemia se baseia no exemplo histórico da gripe de 1918-1920, equivocadamente chamada de “gripe espanhola”. Segundo o historiador usamericano Alfred W. Crosby, a pandemia se originou no Kansas. A Casa Branca escondeu o fato para os EUA não ficarem mal na foto. Como na Espanha não havia censura à imprensa, pois se manteve neutra na Primeira Grande Guerra, e o rei Afonso XIII foi infectado, dali surgiu a notícia da pandemia, que se tornou conhecida como “espanhola”. Ela se estendeu mundo afora, infectou 500 milhões de pessoas, o equivalente a ¼ da população mundial na época, e matou 50 milhões de enfermos.
E o que veio em seguida? Um mundo mais justo? Infelizmente não. Os bons propósitos que fazemos dentro do hospital, do retiro espiritual ou da prisão, quase nunca são levados a efeito ao retornarmos à “normalidade”. O que ocorreu foi um exacerbado apetite para desfrutar da vida, como se o futuro se condensasse no presente. Época que ficou conhecida como “os dourados anos vinte” ou “loucos anos vinte” (roaring twenties).
Com o peso dos mortos pela gripe de Kansas, e mais 30 milhões vitimados pela Primeira Grande Guerra (1914-1918), buscou-se alívio no charleston, no foxtrote, no tango e no jazz de Louis Armstrong, King Oliver e Duke Ellington. George Gershwin nos ofereceu a monumental Rhapsody in Blue. Hollywood acelerou sua produção cinematográfica para disseminar a cultura de massas. O cinema mudo deu lugar ao falado. Os estúdios da Disney criaram Mickey Mouse.
O mercado se embriagou de euforia. Nos edifícios, a art déco; nas ruas, o Ford T. O Empire States, com seus 102 andares, parecia ter vencido o desafio da Torre de Babel. Charles Lindbergh fez o primeiro voo transatlântico sem escalas. Fleming descobriu a penicilina.
Na pintura, Munch, Kandinsky e Kirchner traduziam a subjetividade humana no expressionismo, e a obra de Freud induzia à quebra de paradigmas pictóricos no surrealismo de Picasso, Breton, Miró, Duchamp e Dali. A literatura noz trouxe o melhor de Hemingway, Gertrude Stein e F. Scott Fitzgerald.
Tudo indicava que, afinal, Alice havia encontrado o País das Maravilhas. Até que estourou a abissal queda das Bolsas em 1929 e, com ela, a Grande Depressão. Consumidos os sonhos no incêndio que se alastrou por milhares de falências, aproveitou-se o calor para aquecer o caldo de cultura que veio resultar no nazismo, no fascismo e no fortalecimento dos imperialismos ianque e russo. O resto da história, que veio culminar na Segunda Grande Guerra (1939-1945), todos conhecemos.
Porém, como o futuro é inevitavelmente fruto do que semeamos no presente, é hora de evitar que a história se repita como farsa, diria Marx. Resta-nos defender a todo custo a democracia participativa e uma economia verdadeiramente solidária.
 Frei Betto
Frei Betto
Frade dominicano, jornalista graduado e escritor brasileiro. É adepto da Teologia da Libertação, militante de movimentos pastorais e sociais. Foi coordenador de Mobilização Social do programa Fome Zero.